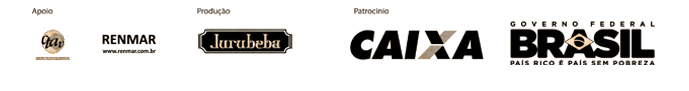Textos
Uma jornada incerta
Débora Butruce e
Orsolya Balogh
Territorialidade e cultura de fronteira
Rodrigo Corrêa Teixeira
Ciganos no Brasil: uma identidade plural
Mirian Alves de Souza
De Tarabatara a Rio cigano
Julia Zakia
Iugoslavo de nascimento, cigano por profissão¹
Eduardo Valente
Entrevista: Emir Kusturica¹
Anthony Kaufman
Latcho Drom exibido pela Cinemateca francesa¹
Raphaël de Gubernatis
A caravana cigana¹
Nick Roddick
A necessidade de trincheiras¹
Fabian Cantineri
Mais do que um olhar sobre a solidão de um órfão¹
Jugu Abraham
Territorialidade e cultura de fronteira
Rodrigo Corrêa Teixeira¹
Entre as inúmeras hipóteses acerca das origens das populações ciganas, as mais consistentes são aquelas que os situam no nordeste da Índia, baseando-se em estudos linguísticos do romani. Desconhecem-se as causas que motivaram a diáspora dos ciganos, nem em quais datas precisas se iniciaram diversas informações sobre sua presença em distintos países europeus.
Quais são as características dos chamados “ciganos”? Será o termo “cigano” um identificador de uma tradição cultural homogênea ou, antes, a unidade cultural de um conjunto de minorias heterogêneas e autônomas? Ou, mais, será este apenas um estereótipo, uma categoria social imposta a grupos sociais minoritários dominados?
Como a experiência de desrespeito está ancorada nas vivências dos ciganos, de modo que possa dar motivação para a resistência social, para o conflito e, sobretudo, para a luta por reconhecimento?
A luta por reconhecimento é um aspecto central na formação das identidades pessoais e coletivas, como elemento no qual se movem e se constituem as subjetividades cotidianas. Ao longo do processo de construção da identidade, em seus diferentes estágios, ocorrem interiorizações de esquemas padronizados de reconhecimento social. Nesse processo, o indivíduo aprende gradativamente a perceber-se como membro de um grupo social, com necessidades e capacidades peculiares à sua personalidade, através da reação positiva de seus parceiros de interação. Em seu processo de socialização, cada sujeito interioriza formas de reconhecimento social inerentes ao seu grupo sociocultural (HONNETH, 2003).
As interações sociais de reconhecimento mútuo favorecem a construção de uma identidade do eu autônoma e, ao mesmo tempo, socialmente integrada. A supressão dessas relações produz experiências de frustração, vergonha e humilhação, trazendo consequências nefastas ao processo de construção da identidade (HONNETH, 2003). Os conflitos gerados por ataques à identidade pessoal ou coletiva e as ações que neles se originam têm em seu cerne a busca pela restauração de relações de reconhecimento mútuo:
O nexo existente entre a experiência de reconhecimento e a relação consigo próprio resulta da estrutura intersubjetiva da identidade pessoal: os indivíduos se constituem como pessoas unicamente porque, da perspectiva dos outros que assentem ou encorajam, aprendem a se referir a si mesmos como seres a que cabem determinadas propriedades e capacidades. A extensão dessas propriedades e, por conseguinte, o grau da autorrealização positiva crescem com cada nova forma de reconhecimento, a qual o indivíduo pode referir a si mesmo como sujeito: desse modo, está inscrita na experiência do amor a possibilidade da autoconfiança, na experiência do reconhecimento jurídico, a do autorrespeito e, por fim, na experiência da solidariedade, a da autoestima (HONNETH, 2003, p. 272).
Ao tentar compreender perspectivas ciganas (“vozes ciganas”) e discuti-las no contexto da sociedade civil no Brasil, torna-se necessário colocar a luta pelo reconhecimento dos ciganos no Brasil no contexto da interpretação de suas ações. Significa compreendê-los em suas possibilidades de desenvolver, nas interações sociais, os componentes de reconhecimento num dado contexto sociocultural, promovendo a autoconfiança, o autorrespeito e a autoestima.
Desde o século XV a palavra “cigano” é utilizada como um insulto (FRASER, 1992. p. 48). De fato, o termo aparece registrado pela primeira vez em português em Farsa das ciganas, de Gil Vicente, provavelmente em 1521. Nesta peça teatral, os ciganos são considerados como originários da Grécia (VICENTE, s.d., p.319-329). No século XIX, no Brasil, não se fala nem que são originários da Grécia nem da Índia, apesar de ganhar cada vez mais força, na Europa, a explicação de que os ciganos teriam vindo do subcontinente indiano. No entanto, há menções sobre ciganos, no Brasil, em que eles se diziam descendentes de antigos egípcios. Além disso, muitas vezes foram chamados de “turcos”, talvez pela associação ao Império Turco-Otomano mencionada nos passaportes.
Nas últimas décadas, pesquisadores, ciganos ou não, consagraram a distinção dos ciganos, no Ocidente, em três grandes grupos. O grupo rom², demograficamente majoritário, é o que está distribuído por um número maior de países. É dividido em vários subgrupos (natsia, literalmente, nação ou povo), com denominações próprias, como os kalderash, matchuara, lovara e tchurara. Teve sua história profundamente vinculada à Europa Central e aos Bálcãs, de onde migraram a partir do século XIX para a Europa Ocidental e para as Américas. Muitas organizações ciganas e vários ciganólogos têm tentado substituir, no léxico, ciganos por roma. A este processo tem-se denominado romanização, e tem a intenção de conferir legitimidade a estes grupos como sendo o dos “verdadeiros ciganos.” Há ainda, pelo menos, duas derivações dessa política. A primeira, a do subgrupo kalderash, autoproclamada a mais “autêntica” e “nobre” entre as comunidades ciganas. A segunda é a do grupo linguístico vlax romani, considerado, por muitos pesquisadores, como portador da “verdadeira língua cigana”.
Os sinti, também chamados manouch, falam a língua sintó e são numericamente expressivos na Alemanha, Itália e França. No Brasil, nunca foi feita uma pesquisa apurada sobre sua presença. Provavelmente, os primeiros sinti chegaram ao país também durante o século XIX, vindos dos mesmos países europeus já mencionados.
Os calon, cuja língua é o caló, são ciganos que se diferenciaram culturalmente após um prolongado contato com os povos ibéricos. Da Península Ibérica, onde ainda são numerosos, migraram para outros países europeus e da América. Foi de Portugal que vieram para o Brasil, onde são aparentemente o grupo mais numeroso. Embora os calon tenham sido pouco estudados, acredita-se que não haja entre eles algo que se assemelhe à complexa subdivisão étnica dos rom.
Historicizar os ciganos nos remete a compreendê-los tanto na sua pluralidade quanto no seu excepcionalismo. Há uma generalidade reducionista ao se chamar de ciganos indivíduos e/ou comunidades com diferenças significativas entre si. Precisa-se, assim, ter o cuidado ao se classificar como “cigana” a identidade de grupos que chegaram ao Brasil deportados de Portugal, desde o século XVI e, ao mesmo tempo, a identidade de famílias oriundas dos Bálcãs e da Europa Central, que chegaram ao país no final do século XIX, bem como famílias romenas que buscaram refúgio no Brasil na última década. Trata-se de uma enganosa generalização, sem dúvida, pois que o espaço e o tempo modificam sensivelmente a constituição desses “sujeitos”.
Partindo do entendimento das diferenças entre os vários agrupamentos ciganos, é perceptível o fato que estes pensam a respeito de si próprios de forma fragmentária. Cada cigano tem uma forte identificação com seu grupo familiar ou com as famílias que têm o mesmo ofício. Uma identidade única entre todos os ciganos só existe quando o contexto das relações sociais entre comunidades minoritárias diversas se unem (na diversidade) para fazer frente ao “outro” hegemônico (isto é, neste caso, a sociedade nacional não cigana). Nestes contextos, as diversas categorias étnicas são capazes de se unirem sob o nome geral de “ciganos” e se organizarem para o embate político.
Sabemos quão triste é a sorte das chamadas “nações sem territórios”. Os ciganos são notoriamente reconhecidos pela sua condição de constante peregrinação, ou seja, o nomadismo e a inexistência de um território circunscrito em fronteiras físicas. Como afirma um dito rom, “Acima o céu, abaixo a terra, e no meio os roma”. Acaso por não ter território estas nações estão desprovidas de fronteiras? Acaso a justaposição sem osmose entre sociedades arraigadas em seu território e sociedades dispersas não é um indício de que o mundo sedentário impõe fronteiras sociais, econômicas, antropológicas e culturais a seus vizinhos de caminhada? Outros dirão que os ciganos levam seus parcos pertences em suas próprias fronteiras comunitárias que, em cada momento, delimitam territórios efêmeros.
Os ciganos se definem como uma nação sem um território compacto e, sobretudo, sem pretensões de tê-lo. Não reivindicam o espaço senão o direito e a justiça. As comunidades ciganas desejam situar-se numa dinâmica progressiva orientada à integração social, a igualdade de direitos, o rechaço da exclusão e o respeito mútuo de todas as identidades representadas no mundo.
Para o cigano, a fronteira enquanto limite entre soberanias é uma inimiga, pois se apresenta como fratura da continuidade do espaço. No entanto, se a fronteira fratura o espaço, também o estrutura. Criam espaços, a menos que sejam os próprios espaços que, ao crescer e unir-se entre si, suscitam as fronteiras.
Em realidade, o que desafia a fronteira é muito mais a dispersão dos roma do que séculos de sedentarização de muitos ciganos, que ainda conservam o vínculo das visitas (com o qual prefiguram o mundo moderno), do mesmo modo que desafiam as fronteiras outros povos transeuropeus mas não nômades, tais como os judeus e os armênios.
Os roma, igual aos representantes de outros povos, assumem plenamente sua identidade de cidadão, de pessoa que ama seu país e vive dentro de suas fronteiras, mas também a de seu povo, carente de território compacto e que transcende toda fronteira.
Mas, além das óbvias diferenças superficiais, há uma profunda identidade comum que se baseia em determinada percepção do destino, da honra, da compaixão, da alma ou da justiça. Diversidade e unidade se complementam quando se planejam em harmonia. A variedade enriquece porque multiplica as experiências, as visões e as sabedorias, ainda que a unidade reforce a solidariedade mais além da vaidade dos desacordos.
Mais pragmaticamente, num momento em que os povos qualificados de “sedentários” se dispersam por mil motivos por toda Europa e fora dela, a experiência milenar dos roma nos ensina como, sem uma continuidade territorial, é possível gerenciar um patrimônio cultural e ético transversal plenamente vivo, e fazê-lo mantendo uma lealdade absoluta até comunidades que a história, as culturas e as fronteiras dividiram.
À parte a complexa definição da identidade cigana, a documentação conhecida indica que sua história no Brasil (COELHO, 1995) iniciou em 1574, quando o cigano João Torres, sua mulher e filhos foram degredados para o Brasil.
Em geral, durante o século XIX, praticamente só se falava de ciganos quando sua presença inquietava as autoridades. Isto ocorria, por exemplo, quando eram acusados de roubarem cavalos. Nas poucas vezes em que se escreviam sobre aspectos culturais dos ciganos, não havia qualquer interesse sobre como eles próprios viam sua cultura. Os contadores da ordem pública, como os chefes de polícia, os compreendiam como sendo “perturbadores da ordem”, responsáveis pelos mais hediondos crimes.
Outras fontes, como viajantes e memorialistas, recorriam aos estereótipos corriqueiros, como “sujos”, “trapaceiros” e “ladrões”. Isto funciona como um indicador: os ciganos eram raramente considerados por si mesmos e, com frequência, eram sinônimos de barbárie, imundice, desonestidade e imoralidade. Assim, a documentação se detém pouco sobre os ciganos singulares, que tornam-se desprovidos de existência. Quase sempre incidem sobre “o cigano”, entidade coletiva e abstrata à qual se atribuem as características estereotipadas pensadas e impostas por uma sociedade não cigana dominante.
A documentação sobre ciganos é escassa e dispersa. Sendo predominantemente uma população “sem escrita”, ao longo dos séculos os ciganos deixaram relativamente poucos registros escritos. Assim, raramente aparecendo nos documentos, aproximamo-nos deles indiretamente, por meio de mediadores, chefes de polícia, clérigos e viajantes, por exemplo. Nestes testemunhos, a informação sobre os ciganos é dada por intermédio de um olhar hostil, constrangedor e estrangeiro. Os ciganos nas cidades oitocentistas, por exemplo, estavam em dissonância aos ideais de civilização e progresso, tão marcantes deste período. Os ciganos são identificados generalizadamente como elementos incivilizáveis, inúteis à sociedade, supersticiosos, corruptores dos costumes, vândalos, enfim, uma anomalia social e racial. Uma vez vistos desta maneira, as autoridades tentavam controlá-los, no entanto, sem obterem grande eficácia.
Qual é o discurso sobre os ciganos? Quando se fala da opinião formada em torno dos ciganos, deve-se considerar que, algumas vezes, eles mesmos contribuíram para a construção de uma “mitologia”. Assim, “em algumas ocasiões, as autoridades locais e os próprios ciganos produziram por diferentes razões ideológicas, mitos coincidentes sobre o verdadeiro cigano” (ACTON, 1974, p.54). Analisando-se duas definições de ciganos em dicionários, primeiro vemos como o Padre Raphael Bluteau, autor do primeiro dicionário de Portugal, repercute as preocupações que a Igreja tinha com o comportamento considerado herege dos ciganos, no início do século XVIII:
Ciganos – Nome que o vulgo dá a uns homens vagabundos e embusteiros, que se fingem naturais do Egito e obrigados a peregrinar pelo mundo, sem assento nem domicílio permanente, como descendentes dos que não quiseram agasalhar o Divino Infante quando a Virgem Santíssima e S. José peregrinavam com ele pelo Egito (BLUTEAU, 1712, p.311-312).
O fato de não empregarem os sacramentos católicos (casamento ou batismo de crianças, por exemplo), em favor de seus costumes, desafiava a moral religiosa, que pretendia controlar todas as parcelas da sociedade. Tomadas como afronta à Igreja, as cerimônias que os ciganos faziam à sua maneira, geraram uma duradoura antipatia do clero. Embora a “feitiçaria” cigana poucas vezes fosse além da prática da leitura da sorte, ela era rigorosamente atacada pelos religiosos. O agravante disto era que, uma vez atingida a Igreja, a coroa Portuguesa também se sentia afetada (DONOVAN, 1992, p.35).
No século XIX, os ciganos continuaram a serem vistos como um grupo bárbaro por não se guiarem por preceitos católicos. No entanto, esta visão foi suavizada, já que a compreensão dos ciganos enquanto raça e grupo socialmente desclassificado foi ocupando maior espaço.
Um século depois, o dicionário do Padre Blateau passou a ser reeditado sob a direção do brasileiro Antonio de Moraes Silva, que define os ciganos da seguinte forma:
Raça de gente vagabunda, que diz vem do Egito, e pretende conhecer de futuros pelas rayas, ou linhas da mão; deste embuste vive, e de trocas, e baldrocas; ou de dançar, e cantar: vivem em bairro juntos, tem alguns costumes particulares, e uma espécie de Germania com que se entendem. (…) Cigano, adj. que engana com arte, subtileza, e bons modos (SILVA, 1922, p.396).
As ideias de trambiqueiros, de divulgarem terem vindo do Egito e a de vagabundos, que contém em si também a noção de nomadismo, permaneceram ao longo do século XX. Mas as menções religiosas foram retiradas, e não apenas porque o novo editor não era um clérigo, mas porque realmente a imagem se transformou. Continuaram como um grupo criminalizado, mas dando-se ênfase aos seus aspectos culturais (TEIXEIRA, 2009).
Na consulta de outras fontes, muitos outros adjetivos negativos foram listados e, infelizmente, pelo desconhecimento e ignorância da sociedade brasileira, muito destas representações estereotipadas continuam no imaginário social como demarcadores da comunidade cigana. Cada uma destas imagens teve períodos de maior e menor destaque. Além disto, combinaram-se entre si das mais diversas maneiras, produzindo um painel extremamente amplo de imagens dos ciganos que, como podemos deduzir, não refletem de fato a variedade étnica nas comunidades ciganas e muito menos os valores e símbolos autodeterminantes de uma população genuinamente distinta da população brasileira.
Assim, devemos nos questionar sobre como construir um saber sobre as comunidades ciganas sem promover uma representação que os isole, fechando-os em uma perspectiva eurocêntrica de ciência, já que as culturas ciganas são, antes de tudo, abertas, flexíveis e intercambiantes. E aqui nos cabe uma pergunta fundamental: Como criar possibilidades de inclusão dos ciganos na sociedade nacional, quando suas características são, fundamentalmente, transnacionais? Como propiciar políticas públicas de inclusão quando se depara com culturas que se desenvolveram de forma sempre contra-hegemônica, como resultado de perseguições e fugas, e num processo de contínua reinvenção das fronteiras (entre o mundo não cigano)?
A relação entre o Estado (territorialmente fixo e com uma autoridade política) e os povos nômades (representando os fluxos populacionais e a falta de controle político) sempre foram altamente conturbadas em virtude das diferentes territorialidades em questão. Nesse sentido, os Estados têm tentando, ao longo da história, ou fazer com que esses povos passem rapidamente por seu território, ou que se estabeleçam fixamente nele. Isso tem servido a dois propósitos: tem reduzido as consequências materiais da migração transnacional nômade para o próprio Estado, e tem forçado os nômades a adotar a ordem política do Estado territorial, aliviando a disjunção ideacional entre nômades e Estado.
Os Estados têm tentado forçadamente fixar os povos nômades por motivos materiais e ideacionais. A sedentarização forçada é, então, uma consequência das atitudes estatais, além de ser parte de uma convicção estatocêntrica de que o nomadismo representaria uma ameaça ao sucesso material ou a segurança ontológica do Estado enquanto uma instituição. A reação estatal à essa suposta ameaça, contudo, não é uniforme, sendo possível observar diferentes políticas em direção à esse povo. (DE CARVALHO, 2009, p.2)
Como se constitui a territorialidade dos ciganos, grupo expropriado socialmente, minoritário e associado a formas nômades de vivência geográfica? Como comunidades que construíram territorialidades a partir de intensos fluxos e complexas redes sociais (baseadas nas redes de parentesco, relações políticas inter e intraétnicas) e econômicas (amplas conexões comerciais) se comportam frente às novas territorialidades, desterritorializações e reterritorializações no processo de globalização? Como recorrem à história, à memória e aos ambientes socioculturais para legitimar suas territorialidades em construção?
A territorialidade cigana se manifesta em diversas escalas: a tenda, o acampamento, a cidade, os itinerários e as regiões são espaços com os quais os ciganos estabelecem diferentes e complexas relações. A territorialidade do grupo, em macroescala, expressa-se como um “arquipélago” de pequenos territórios. Nos diversos locais onde costumeiramente acampam, os ciganos chegam e saem sazonalmente, ainda que possa haver algumas famílias ciganas sedentárias. Assim, os espaços vividos são mais referentes aos acampamentos, aos itinerários e aos pontos de pernoite do que aos elementos urbanos ou rurais marcantes para a sociedade nacional (TEIXEIRA, 2009).
O nomadismo propicia que as fronteiras dos territórios ciganos sejam portáteis. Ainda que existam muitos acampamentos em terrenos de outros proprietários (para os quais devem pagar aluguel), o fato de que não tenham a posse não interfe no sentido simbólico dos mesmos. As barracas e a solidariedade entre as famílias são os elementos que tornam portáteis os territórios, sinalizando que um determinado espaço é cigano.
Nesta perspectiva “pode ser que os acampamentos sejam para eles [os nômades] os lugares mais importantes, conhecidos mediante a experiência íntima” (TUAN, 1982, p.200). O acampamento compreende tanto o espaço onde se situam as tendas e o intervalo entre elas quanto o terreiro onde os ciganos trabalham no artesanato, no comércio, cozinham e, às vezes, alimentam-se (FERRARI, 2010).
No passado, raramente os grupos ciganos percorriam longas distâncias de uma província a outra ou mesmo por diversas regiões brasileiras, pois estas viagens duravam semanas e até meses, o que custava um enorme empenho econômico e físico. A maior parte dos deslocamentos ciganos envolvia distâncias entre cidades vizinhas, ou entre cidades da mesma região. A identidade se afirmava por uma continuidade no tempo e uma permanência num espaço, um espaço portátil, já que os acampamentos mudavam em suas localizações, mas permaneciam como território cigano.
Apesar dos inúmeros trabalhos nas últimas décadas sobre os ciganos no Brasil, o conhecimento objetivo da população cigana ainda é bastante precário, pois raríssimos estudos produziram informações demográficas de qualidade que pudessem nos orientar quanto à produção de estimativas sérias. A maior parte das estimativas sobre ciganos no Brasil se baseia em vagas impressões mais ou menos qualificadas, mas sempre imprecisas. Encontramos estimativas que vão dos 100 mil até 1 milhão de ciganos espalhados no território nacional (MOONEN, 2011a, p.115-117), mas nenhuma representa números embasados demograficamente.
Os ciganos constituem-se em uma “cultura de fronteira”. A característica de cultura de fronteira é a vocação para práticas cartográficas: desenham mapas que definem a parte de dentro e os que habitam como mais significativas do que tudo o que se encontra do lado de fora e em situação de desconforto. É em função de tal mapeamento que as culturas de fronteira olham para si mesma em autocontemplação. As culturas na fronteira, por outro lado, contemplam o que está fora mais do que está dentro, porque, não tendo o poder de exercitar práticas cartográficas centralizantes e tendo as suas fronteiras definidas pelas culturas centrais, devem necessariamente desejar o centro que está fora.
No transcurso da história os ciganos souberam subverter quase todas as situações que o contexto desfavorável lhes oferecia. Adaptaram-se, penetrando nas lacunas que a dinâmica econômica e social criavam. A adaptação para a sobrevivência foi o grande trunfo da condição cigana. Mesmo tendo uma identidade aparentemente frágil, eles a recriaram frente às mais díspares circunstâncias. A sobrevivência foi a realização mais duradoura, o grande evento, da história cigana. Por isso Angus Fraser, autor do melhor trabalho historiográfico sobre ciganos, escreve na primeira página de seu livro:
Quando se consideram as vicissitudes que eles encontraram – porque a história a ser relatada agora será antes de tudo uma história daquilo que foi feito por outros para destruir a sua diversidade – deve-se concluir que a sua principal façanha foi a de ter sobrevivido (FRASER, 1992, p.1).
Ainda que tenha havido séculos de políticas anticiganas por parte de Portugal e depois tanto pelo Império quanto pela República brasileira, os ciganos do Brasil são uma cultura singular no mundo, diferente de qualquer outra, e, entretanto, dividem com aqueles que os acolhem um grande número de seus aspectos culturais. No encontro das culturas. Em tempos de globalização, é preciso conceber todas as culturas como agentes de unidade e de diversidade, recriando o sentido de humanidade.
Bibliografia e referências bibliográficas
ACTON, Th. Gypsy politics and social chance. Londres e Boston: Routledge & Keghan Paul, 1974.
ARRUTI, José Maurício. Mocambo: antropologia e história do processo de formação quilombola. Bauru, SP: Edusc, 2006.
AUZIAS, Claire. Os ciganos ou o destino selvagem dos roms do leste. Antígona: Portugal. 2001.
BLUTEAU, R. Cigano. In: Vocabulário portuguez & latino: aulico, anatomico, architectonico…; tomo II, Coimbra, Real Collegio das Artes da Companhia de Jesu; Lisboa Ocidental: Pascoal da Sylva, 1712.
BOURDIEU, P. 1983:30. Questões de Sociologia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1983.
BUEZAS, Tomás Calvo. ¿España racista?: voces payas sobre los gitanos. Barcelona: Anthropos, 1990.
COELHO, F. A. Os ciganos de Portugal: com um estudo sobre o calão. Lisboa: Dom Quixote,1995. [Original: 1892].
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: Iluminuras, FAPESP, 1997.
D`ADESKY, Jacques. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e antirracismos no Brasil. Rio de Janeiro. Palla. 2001.
DE CARVALHO, Gustavo S. et al. States and Pre-State Actors: The Nomadic Challenge to Westphalian Territoriality. APSA 2009 Toronto Meeting Paper. Disponível em: http://ssrn.com/abstract=1449352
DONOVAN, Bill M. Changing perceptions of social deviance: gypsies in early modern Portugal and Brazil, Jornal of Social History, 1992, v.26, p.33-53.
FAZITO, Dimitri. Transnacionalismo e etnicidade: a construção simbólica do Romanesthán (Nação Cigana), Dissertação de Mestrado em Sociologia, Departamento de Sociologia e Antropologia, UFMG, Belo Horizonte, 2000.
FERRARI, Florencia. O mundo passa: uma etnografia dos Calon e suas relações com os brasileiros, Tese de Doutorado, Departamento de Antropologia Social, USP, São Paulo, 2010.
FRASER, A. The gypsies. Oxford: Blackwell Publishers, 1992.
HONNETH, Alex. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. São Paulo: Editora 34, 2003.
MARUSHIAKOVA, Elena & POPOV, Vesselin. The Roma – a Nation Without a State? Historical Background and Contemporary Tendencies, Mitteilungen des SFB “Differenz und Integration” 6: Segmentation und Komplimentarität. Orientwissenschaftliche Hefte 14, 2004, p.71-100.
MELO, Fábio D. A língua da comunidade Calon da região norte-nordeste do estado de Goiás, Tese de Doutorado, Departamento de Linguística, Português e Letras Clássicas, da Universidade de Brasília, Brasília, 2008.
MOONEN, Frans. Anticiganismo: os ciganos na Europa e no Brasil, livro em versão digital, dhnet.org, Recife, 2010.
______. Ciganos Calon no sertão da Paraíba, livro em versão digital, dhnet.org, Recife, 2011.
______. Os estudos ciganos no Brasil 1885-2010, livro em versão digital, dhnet.org, Recife, 2011a.
SILVA, A. de Moraes. Cigano. In: Diccionário de Lingua Portuguesa. Rio de Janeiro: Officinas da S.A. Litho-Typographia Fluminense, 1922, Tomo Primeiro. [Original: 1813].
SILVA, Francisco Carlos T. da; MEDERIOS, Sabrina Evangelista; VIANNA, Alexandre Martins (org.). Dicionário do pensamento da direita: ideias, instituições e personagens. Rio de Janeiro: Mauad, 2000.
TEIXEIRA, Rodrigo Corrêa. Ciganos no Brasil: uma breve história. 2ed. Belo Horizonte: Crisálida, 2009.
TUAN, Yi-Fu. Espaço e lugar: a perspectiva da experiência. São Paulo: Difel, 1982.
VICENTE, Gil. A farsa das ciganas. In: Obras completas, V.5, 3ed. Lisboa: Livraria Sá da Costa. [s.d.]. [Original: 1521?]
¹ Rodrigo Corrêa Teixeira é mestre em História (UFMG), doutorando em Geografia (UFMG) e professor do Departamento de Relações Internacionais na PUC Minas. Autor de Ciganos no Brasil: uma breve história (Editora Crisálida).
² Rom, substantivo singular masculino, significa homem e, em determinados contextos, marido; plural roma; feminino romni e romnia. O adjetivo romani é empregado tanto para a língua quanto para a cultura. Apesar disto, como fazem muitos ciganólogos, a seguir sempre escreveremos “os rom” e não “os roma”, da mesma forma “os calon”, “os sinti” etc.