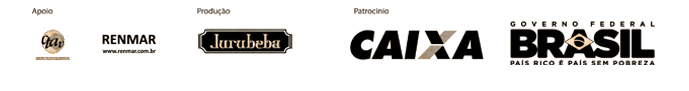Textos
Uma jornada incerta
Débora Butruce e
Orsolya Balogh
Territorialidade e cultura de fronteira
Rodrigo Corrêa Teixeira
Ciganos no Brasil: uma identidade plural
Mirian Alves de Souza
De Tarabatara a Rio cigano
Julia Zakia
Iugoslavo de nascimento, cigano por profissão¹
Eduardo Valente
Entrevista: Emir Kusturica¹
Anthony Kaufman
Latcho Drom exibido pela Cinemateca francesa¹
Raphaël de Gubernatis
A caravana cigana¹
Nick Roddick
A necessidade de trincheiras¹
Fabian Cantineri
Mais do que um olhar sobre a solidão de um órfão¹
Jugu Abraham
Ciganos no Brasil: uma identidade plural
Mirian Alves de Souza¹
Os ciganos podem ser encontrados em todo o território brasileiro e nos diferentes níveis do espectro social: são artistas, músicos,dançarinos, cartomantes, quiromantes, comerciantes, professores, médicos, advogados e funcionários públicos. Além de uma pluralidade socioeconômica, os ciganos apresentam uma enorme diversidade interna em termos de referências identitárias.
A categoria cigano expressa uma pluralidade de identidades étnicas, como calon, roma, kalderash, moldowaia, sibiaia, horahano, lovaria, mathiwia e sinti. Tais categorias, que não se esgotam aqui, não descrevem unidades homogêneas e comportam outras diferenças étnicas, assim como de clã, nacionalidade, religião, ideologia e etc.
Os ciganos no Brasil são, portanto, muito diferentes. A sua origem, entretanto, nos remete ao continente europeu. Ciganos calons, vindos da Península Ibérica, chegaram ao Brasil ainda no século XVI, durante o período colonial. Depois, no contexto da imigração europeia nos séculos XIX e XX, chegaram ciganos roma, também vindos da Europa, sobretudo central e oriental.
Atualmente, os ciganos representam um dos maiores grupos étnicos na Europa. Embora não existam dados demográficos confiáveis, uma vez que a “identidade cigana” não é necessariamente reconhecida por todos os censos nacionais, estima-se o número de quase 10 milhões de ciganos no mundo, sendo 80% constituído por sujeitos que vivem em países membros ou candidatos à União Europeia. Existem ciganos, contudo, em todos os continentes, em países como Brasil, Argentina, Colômbia, México, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Iraque, Egito e Jordânia.
No Brasil, associações ciganas e representantes do Estado brasileiro indicam a existência de 800 mil a 1 milhão de ciganos no país. Os dados populacionais sobre os ciganos, no entanto, não são reflexos diretos de realidades demográficas ou identitárias, representando estimativas construídas a partir das diferentes agendas políticas que orientam o debate público sobre ciganos. A partir da última década, com a adoção do multiculturalismo como linguagem oficial e princípio organizacional de políticas do Estado, a identidade cigana vem se tornando cada vez mais objeto de debate público no Brasil. Isto significa dizer que se passou a discutir, por exemplo, quem são os ciganos e qual o seu lugar na narrativa nacional brasileira.
Nesse contexto, em 2006, foi instituído o Dia Nacional dos Ciganos, através de decreto presidencial. Segundo o ministério responsável pela ação, a SEPPIR², “o decreto marcou o reconhecimento à contribuição da etnia cigana na formação da história e da identidade cultural brasileira”. Esse decreto se inscreve no campo das políticas de reconhecimento de identidades distintivas, que não eram explicitadas na narrativa nacional tradicional, focada em “brancos”, “negros” e “indígenas”. O decreto representa uma mudança na forma de se pensar a história nacional, porque incorpora os ciganos de forma positiva na narrativa oficial.
Ciganos na narrativa nacional brasileira
Os ciganos estão no Brasil desde o período colonial. Considerando suas divisões internas, pode-se afirmar que ciganos calons estão no Brasil desde o século XVI. Diferente dos ciganos roma³, que vieram ao país no contexto da imigração europeia nos séculos XIX e XX, os ciganos calons chegaram no início da colonização portuguesa. Os primeiros registros da presença de ciganos no Brasil se referem às penas de degredo, ou seja, os ciganos chegaram ao Brasil colonial banidos de Portugal. O documento mais amplamente assinalado como sendo o primeiro registro da presença de ciganos é o Alvará de Don Sebastião, de 1574, que decreta o degredo para o Brasil ao cigano João Torres e sua família (PIERONI, 2000).
Ao longo de toda a história colonial, a Coroa portuguesa deportou ciganos para o Brasil. No século XVIII, a ordenação de banimento de todos os ciganos para as colônias portuguesas de além-mar caracterizou o reinado de D. João V. Demonstrações públicas de banimento evidenciavam o forte aparato da justiça real portuguesa, que embarcava para as colônias comunidades inteiras, como a noticiada na Gazeta de Lisboa de 10 de março de 1718, pelo historiador Bill Donovan (1992).
O degredo de ciganos de Portugal para o Brasil e outras colônias, como Angola, Cabo Verde, Goa e São Tomé e Príncipe, persistiu até o final do século XVIII. Estima-se que o Brasil tenha recebido um considerável número de famílias ciganas nesse período, marcado por sucessivas leis destinadas ao controle, ao aprisionamento, ao degredo e à proibição de aspectos culturais como língua, vestuário, sociabilidade, economia, formas de habitação e mobilidade espacial dos ciganos.
A Coroa portuguesa escolheu Ceará e Maranhão como os primeiros destinos para os ciganos degredados. Segundo pesquisadores, existia o interesse no estabelecimento de ciganos em áreas sem forte atividade de mineração e de agricultura e longe dos principais portos da colônia (do Rio de Janeiro a Salvador). Como ciganos degredados, eles eram vistos a partir de estereótipos negativos, como ladrões, agitadores e místicos. Outra razão para serem enviados ao Ceará e Maranhão era a expectativa de que os ciganos ajudassem a ocupar extensas áreas dos sertões nordestinos, predominantemente ocupadas por populações indígenas (TEIXEIRA, 1998, PIERONI, 2000). Ainda assim, já no começo do século XVIII, aparecem registros de ciganos em Salvador, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro. Atualmente, no século XXI, existem registros da presença de ciganos em todos os estados do Brasil.
Os ciganos aparecem no debate sobre imigração e nas políticas de povoamento do Brasil. Primeiro, no período colonial, depois, no contexto da imigração europeia nos séculos XIX e XX. Segundo o historiador Jeffrey Lesser (2001), a partir de 1850, quando se tornou claro que a escravidão não perduraria por muito tempo, a imigração passou a desempenhar um papel central nas políticas da nação. Nesse contexto, um debate se impôs na arena pública: quais são os imigrantes desejáveis e que, portanto, contribuirão para a transformação social?
Os ciganos são, por um lado, vistos como imigrantes desejáveis, porque brancos e europeus; mas, por outro, são indesejáveis, frequentemente classificados como “gente nociva à ordem pública e à segurança nacional” (SEYFERTH, 2002; 2008). Existiu, desse modo, uma forte intolerância aos ciganos, definidos como indesejados, ao lado de outros estrangeiros (GOODWIN, 1986; CARNEIRO, 2005). O historiador James Goodwin observa que o Ministro da Agricultura, em 1898, ao saber que chegariam centenas de “turcos” e “boêmios”4 em um dos navios esperados no porto do Rio de Janeiro, manda telegrafar a este porto, bem como para todos os portos intermediários, a fim de que não lhes fosse permitido o desembarque (GOODWIN, 1986, p.52). A antropológa Gyralda Seyferth também nota que os ciganos são incluídos nas relações de imigrantes indesejáveis, constando referência a eles nos decretos do início da década de 1930 (2008, p.14).
Os ciganos, no entanto, não foram apenas vistos como indesejáveis. Em nome da defesa do “branqueamento do Brasil”, os ciganos foram considerados imigrantes desejáveis. Em 1945, o sociólogo e político Arthur Hehl Neiva defendeu os ciganos com base no Decreto de Lei 7967, segundo o qual a admissão de imigrantes deveria atender “à necessidade de preservar e desenvolver, na composição étnica da população, as características mais convenientes de sua ascendência europeia”. Nesse sentido, pode-se dizer que na sociedade brasileira, marcada pelo projeto de branqueamento, os ciganos conseguiram subir degraus na hierarquia social. Considerando que branco, como observa Jeffrey Lesser (2001), é uma categoria cultural e que, não sendo “negro ou indígena” no Brasil se pode ser branco. Ciganos, assim como judeus, árabes e japoneses, negociaram e negociam com maior ou menor sucesso sua identidade como brancos no Brasil.
Embora os ciganos façam parte da história da imigração para o Brasil, vindo de países como Romênia, ex-Iugoslávia, Rússia, Itália, Bulgária, Hungria e ex-Tchecoslováquia, eles não possuem um lugar nas “narrativas oficiais” sobre a imigração. Os ciganos não são representados como imigrantes nas narrativas de imigração, como as veiculadas, por exemplo, nos livros didáticos, e não por que no Brasil categorias étnicas não fossem reconhecidas. Os ciganos aparecem na documentação histórica brasileira mesmo sem fazer parte do “sistema classificatório oficial” desde o período colonial.
Cigano é uma categoria que pode ser encontrada na documentação histórica. No que se refere ao contexto da imigração nos séculos XIX e XX, ainda que ciganos, assim como judeus, árabes e outros grupos étnicos, não tenham sido objeto de categorização no controle de entrada de estrangeiros, eles aparecem em documentação oficial e nos debates públicos sobre imigração.
No campo do pensamento social brasileiro, o primeiro livro inteiramente dedicado aos ciganos é do folclorista Mello Moraes Filho que, em 1886, publicou Os ciganos no Brasil e cancioneiro dos ciganos. Neste livro, Mello Moraes sublinhou o papel desempenhado pelos ciganos na formação da “cultura brasileira”, definindo-os como um “povo misterioso e errante” que contribuiu na “herança psíquica do brasileiro”. O folclorista Mello Moraes defendeu a inclusão dos ciganos, ao lado de “índios”, “negros” e o “branco” (português), entre os povos que, através da miscigenação, formaram o “povo brasileiro”. A participação dos ciganos na formação do “povo brasileiro”, no entanto, não encontrou ressonância no campo intelectual, sendo criticada por autores como Silvio Romero. Mesmo sem participar da “fusão do povo brasileiro”, os ciganos são mencionados por autores que tiveram um papel importante na construção da narrativa nacional brasileira, como Gilberto Freyre (1936), Arthur Ramos (1947) e Luis da Câmara Cascudo (1967, 1981).
No que se refere à literatura brasileira, existem relatos sobre ciganos produzidos por viajantes estrangeiros e escritores brasileiros desde o século XIX. Auguste de Saint-Hilaire (1816-22), Henry Koster (1816), Maria Graham (1823) e Jean-Baptiste Debret (1834) descreveram ciganos calons e roma no Brasil. A partir desses relatos, os autores mostraram que os ciganos se integraram à sociedade brasileira, sendo descritos como comerciantes nômades no interior de Minas Gerais; negociantes no mercado de escravos africanos do Rio de Janeiro; oficiais de justiça (meirinhos) no judiciário carioca; vendedores urbanos e cartomantes. A integração dos ciganos, que alcançaram visibilidade com essas práticas culturais e profissionais, não impediu que eles se distinguissem etnicamente dos brasileiros.
Confrontando as teorias que previam a integração social como fator para a diluição de identidades étnicas e sua substituição pela identidade nacional brasileira, os ciganos mostram que integração social não corresponde à assimilação cultural. Ciganos alcançaram mobilidade social na sociedade brasileira, mas não abandonaram sua identidade étnica. Como outros grupos étnicos, a exemplo de judeus e árabes, os ciganos se distinguem etnicamente.
Destaco que a etnicidade aqui é pensada como o resultado do processo de organização de diferenças culturais, através da construção de fronteiras simbólicas entre grupos sociais (BARTH, 1998). Segundo essa perspectiva, as fronteiras étnicas não demarcam descontinuidades culturais entre populações distintas, mas são o resultado da eleição de determinados elementos culturais como sinalizadores das identidades que delimitam tais grupos.
Nesse sentido, os ciganos não se definem a partir de um determinado conteúdo cultural. Não é possível defini-los a partir do nomadismo, da leitura de mãos ou do uso de saias longas. Os ciganos estão em constante fluxo cultural e o que eles definem como marcadores de sua identidade é altamente variável. A língua, entretanto, é uma referência cultural muito importante, ainda que não determinante da identidade. Não são todos os ciganos que falam o romani ou o chibi (línguas ciganas). Porém, mesmo entre ciganos não falantes da língua, o romani ou o chibi são referências identitárias. A língua não é exatamente um denominador comum, por causa de sua enorme variação dialetal, mas é reconhecida por muitos ciganos como expressão de sua diferença étnica. Em outras palavras, a língua cigana é valorizada como elemento constitutivo, mas não determinante da identidade cigana. Assim, mesmo sendo um diacrítico cultural importante, a língua não é uma condição obrigatória para a ciganidade.
Atualmente, ciganos no Brasil reivindicam o seu reconhecimento como minoria étnica com língua e modo de vida diferenciados, mas parte constitutiva da nação brasileira. Ativistas ciganos querem o reconhecimento dos ciganos na narrativa nacional, porém de uma maneira diferenciada. Em vez de serem focalizados a partir de determinados estereótipos, como o de ladrões de crianças e pessoas não confiáveis, agentes políticos e ativistas querem que os ciganos sejam definidos a partir, por exemplo, de sua contribuição positiva na formação nacional brasileira.
“Movimento cigano” no Brasil
Uma das primeiras ações de um “movimento cigano” no Brasil foi o pedido de reconhecimento da participação de ciganos na justiça brasileira. Por “movimento cigano”, categoria mobilizada por ativistas e lideranças ciganas, estamos nos referindo a sujeitos e associações que buscam “modificar as representações negativas sobre os ciganos, buscando seu reconhecimento como nação, assim como garantir seu acesso a direitos e serviços no Brasil” (SOUZA, 2013). Contrapondo-se a determinados estereótipos, ciganos vem construindo narrativas nas quais eles são apresentados de modo a inverter o estigma que lhes é tradicionalmente imputado.
Em 11 de agosto de 1986, os membros do Centro de Estudos Ciganos (CEC), associação cigana criada na década de 1980 no Rio de Janeiro, enviaram uma carta à administração do Paço Imperial pedindo a instalação de uma placa de cobre no seu pátio interno com o nome de “Adro dos Ciganos”. A pertinência desta referência aos ciganos no Paço foi justificada em razão do expressivo número de ciganos que trabalharam no edifício, que fazia parte da administração pública – justiça, durante todo o período imperial. Eles foram cocheiros, palafreneiros, artesãos de cobre e de ferro, organizadores de festividades e, sobretudo, oficiais de justiça ou, tal como aparece no documento enviado, “andadores do rei”. Segundo ativistas do CEC, o objetivo dessa demanda era destacar a “contribuição positiva dos ciganos para a história nacional brasileira”, dissociando-os do conjunto de estigmas que lhes é tradicionalmente imputado ao se referir positivamente a propriedades e capacidades concretas. O CEC tinha a preocupação em modificar e controlar a maneira como os ciganos são definidos no Brasil. Para seus membros, o reconhecimento público da participação dos ciganos na justiça contribuiria para a construção de uma identidade cigana mais positiva na esfera pública.
Mesmo entre os ciganos que alcançaram mobilidade social na sociedade brasileira e atuavam no judiciário, a identidade cigana não deixou de corresponder a um estigma social. Exemplo disso é que a primeira entidade de classe do Tribunal de Justiça, a Associação dos Oficiais de Justiça do Estado da Guanabara (AOJA), foi fundada por ciganos calons, em 1956, em resposta à declaração de um corregedor que classificou os oficiais de justiça “como a praga do Tribunal de Justiça”, alegando que à época a classe era “dominada pelos ciganos”. O preconceito expresso por esse corregedor contra os ciganos, que ocupavam um número bastante expressivo de posições como oficiais de justiça no judiciário do Rio de Janeiro, aparece na memória oficial da AOJA como a razão para a sua criação.
A primeira associação cigana criada para combater o preconceito contra os ciganos é o CEC, mencionada acima. Essa associação durou até a década de 1990, quando um de seus membros criou, também no Rio de Janeiro, a União Cigana do Brasil, a associação cigana mais antiga em atividade no país. Se atualmente, em 2013, existem no Brasil várias associações ciganas atuando na esfera pública, até a década de 1980 não existiam associações que buscassem discutir publicamente a identidade cigana no país. Em cidades como Rio de Janeiro (RJ) e Campinas (SP) existem registros de associações ciganas desde a década de 1930. Porém, essas associações se dirigiam de forma mais íntima e exclusiva a determinados ciganos em razão de sua identidade étnica, nacional ou de “clã”. Por exemplo, no Rio de Janeiro, a sociedade étnica “Conjunto Fé em Deus”, fundada em 1933, tinha como associados exclusivos os “calons do Catumbi”, que se definem como um “clã” ou “tribo” para se diferenciarem dos demais ciganos calons. Essas associações eram marcadas pelo particularismo étnico, limitando-se a aceitar determinados ciganos, e não tinham como propósito a promoção da identidade cigana na esfera pública.
Diferente dessas associações, as associações contemporâneas, como a União Cigana do Brasil, dirigem-se aos ciganos, independentemente de sua origem étnica, ou seja, são abertas a calons, kalderashs, horahanos etc. Essa visão pluralista se expressa na afirmação de uma identidade cigana mais generalizante e abstrata. O discurso da UCB, assim como de outras associações, é informado pelo idioma nacionalista que imagina os ciganos como uma nação, englobando diferentes etnias. A ideia de que os ciganos são uma “nação com cultura própria” e que, como tais, deveriam se posicionar na esfera pública, emerge no Brasil com o “movimento cigano” na década de 1980.
Codificações da identidade cigana
Atualmente, existem muitas associações ciganas no Brasil que buscam modificar e construir discursos sobre os ciganos. A já mencionada União Cigana do Brasil (UCB) tem um projeto de identidade para os ciganos no país (SOUZA, 2013), com o qual finalizo este texto. Por projeto identitário compreende-se um conjunto de ações que buscam normatizar as representações e discursos sobre ciganos no país. Os projetos identitários são públicos, sendo negociados e disputados com outras associações ciganas e agentes políticos.
A UCB tem como presidente, o músico violinista Mio Vacite, que nasceu em 1941, filho de ciganos roma iugoslavos. Como imigrantes no Brasil, a história da família de Mio Vacite se relaciona ao debate sobre imigração no país. A família chega como indesejada, vive em acampamentos, e através de estratégias (como o ingresso em atividades públicas) alcança mobilidade social. A narrativa que focaliza a mobilidade, descrevendo a ascensão social dos ciganos, desempenha um papel importante no projeto identitário da UCB, que reflete a história de seu presidente.
O antropólogo Paulo Hilu Pinto identificou em sua pesquisa sobre imigrantes árabes no Brasil (2010) que estes constroem o seu discurso público a partir da narrativa de mobilidade. A UCB também constrói o seu discurso a partir dessa narrativa de mobilidade. Para a UCB e outras associações ciganas no país (como as lideradas pelos agentes políticos ciganos Yáskara Guelpa e Claudio Iovanovitch), é preciso publicizar informações positivas sobre os ciganos, como a divulgação de personalidades ciganas. Segundo os agentes políticos, o ex-presidente do Brasil Juscelino Kubitschek tinha ascendência checa e cigana. Um homem de sua família seria um cigano checo que chegou ao país como imigrante. Para o “movimento cigano”, exemplos de mobilidade, da mudança de status dos ciganos na hierarquia social brasileira, devem ser divulgados a fim de contribuir para uma mudança no imaginário sobre os ciganos.
A identificação dos ciganos, no entanto, não é uma questão simples. A identidade cigana corresponde a um estigma social, sendo os ciganos recomendados a se dissociar de sua identidade étnica na esfera pública. As políticas que claramente definiam os ciganos como degredados e indesejados certamente tem um lugar para o estigma. Nesse sentido, os ciganos que afirmam sua etnicidade ou que a comunicam publicamente, ou ainda que a mobilizam politicamente, geralmente são ciganos que correspondem aos estereótipos: músicos, artistas em geral, como escritores, poetas, cartomantes, lideranças de grupos familiares… Os ciganos que fogem ao estereótipo não costumam ter visibilidade. O objetivo de ativistas e agentes políticos ciganos ao identificarem publicamente “ciganos importantes” é dar visibilidade a outras representações.
Esse texto buscou contribuir para o debate sobre ciganos no Brasil ampliando representações e discursos sobre eles. A identidade cigana, contudo, sendo uma identidade plural, não se limita ao universo discursivo desse texto. Aqui focalizamos apenas algumas questões e representações, entre muitas disponíveis.
Referências bibliográficas:
BARTH, F. Grupos Étnicos e suas Fronteiras. In: LASK, Tomke (Org.). O guru e o iniciador e outras variações antropológicas. Rio de Janeiro: Contra Capa, [1969] 1998.
CÂMARA CASCUDO, L. Mouros, franceses e judeus: três presenças no Brasil. Rio de Janeiro, 1967.
_______. Notas a “Os Ciganos no Brasil”. In: MORAES, Mello. Os ciganos no Brasil e cancioneiro dos ciganos. Belo Horizonte e Itatiaia: USP, [1886] 1981.
CARNEIRO, M. Preconceito racial em Portugal e Brasil Colônia. São Paulo: Perspectiva, 2005.
DEBRET, J. B. Viagem pitoresca e histórica ao Brasil. 6 ed. São Paulo e Martins;
Brasília: INL, Tomo I, v. II [1834] 1975.
DONOVAN, B. Changing Perceptions of Social Deviance: Gypsies in Early Modern Portugal and Brazil. In: Journal of Social History, v.26, n.L, p.33-53, 1992.
FREYRE, G. Nordeste: aspectos da influência da canna sobre a vida e paisagem do nordeste do Brasil. Rio de Janeiro: José Olympio, 1936.
GOODWIN JR., J. A “Princeza de Minas”: a construção de uma identidade pelas elites juizforanas. 1850-1888. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: FAFICH / UFMG, 1986. p.105.
GRAHAM, M. Diário de uma Viagem ao Brasil (1821-1823). São Paulo: Nacional, 1956.
KOSTER, H. Viagens ao nordeste do Brasil (1815-16). São Paulo, 1842.
LESSER, J. A negociação da identidade nacional: imigrantes, minorias e a luta pela etnicidade no Brasil. São Paulo: UNESP, 2001.
MELLO, M. A. et tal. Les Gitans de la “Cidade Nova” et l’appareil judiciaire de Rio de Janeiro: du négoce interprovincial des esclaves au négoce des “frais” de justice. In: Études Tisganes, v.21, p.12-33. Paris: FNASAT, 2005.
MORAES FILHO, M. Os Ciganos no Brasil e cancioneiro dos ciganos. Belo Horizonte e Itatiaia: USP, [1886] 1981. 78 p.
PIERONI, G. Vadios e ciganos, heréticos e bruxas. Os degredados no Brasil Colônia. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil: Fundação Biblioteca Nacional, 2000.
PINTO, P. H. R. Árabes no Rio de Janeiro: uma identidade plural. Rio de Janeiro: Cidade Viva, 2010.
RAMOS, A. Introdução à Antropologia Brasileira: As culturas europeias e os contactos raciais e culturais. V.II. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil – CEB, 1947.
SAINT-HILAIRE, A. Viagem à província de São Paulo (1816-22). Belo Horizonte: Itatiaia. [1882] 1976.
SEYFERTH, G. “Colonização e Política Imigratória no Brasil Imperial”. In: SALES, T.; SALLES, M. do R.R. (Org.). Políticas Migratórias. São Paulo: Sumaré; EDUFSCAR; FAPESP, 2002. p.79-110.
__________. Imigrantes, estrangeiros: a trajetória de uma categoria incômoda no campo político. In: Anais da 26a Reunião Brasileira de Antropologia, 2008, Porto Seguro – BA. Anais da 26a Reunião Brasileira de Antropologia, v.1. Brasília – DF: Associação Brasileira de Antropologia, 2008.
SOUZA, M. A. Ciganos, Roma e Gypsies: projeto identitário e codificação política no Brasil e Canadá. Tese de Doutorado em Antropologia. Programa de Pós-graduação em Antropologia da Universidade Federal Fluminense PPGA/UFF, 2013. 352 p.
TEIXEIRA, R. Correrias de Ciganos pelo Território Mineiro (1808-1903). Dissertação de Mestrado, Departamento de História, Universidade Federal de Minas Gerais, 1998.
¹ Mirian Alves de Souza é professora da UFF e pesquisadora do NUFEP, NEOM-PPGA/UFF.
² SEPPIR designa a Secretaria Especial para a Promoção da Igualdade Racial, que tem status de ministério.
³ Roma é plural de rom, que significa cigano na língua romani, língua falada por ciganos em vários países do mundo. Os ciganos calons falam o chibi ou calon, que corresponde a um léxico derivado do romani. Existe uma grande variação dialetal no romani.
4 Segundo Goodwin, essas são designações também atribuídas aos ciganos (1986).