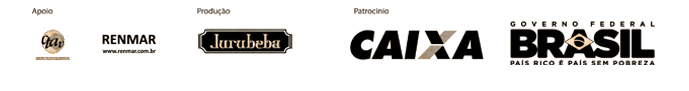Textos
Uma jornada incerta
Débora Butruce e
Orsolya Balogh
Territorialidade e cultura de fronteira
Rodrigo Corrêa Teixeira
Ciganos no Brasil: uma identidade plural
Mirian Alves de Souza
De Tarabatara a Rio cigano
Julia Zakia
Iugoslavo de nascimento, cigano por profissão¹
Eduardo Valente
Entrevista: Emir Kusturica¹
Anthony Kaufman
Latcho Drom exibido pela Cinemateca francesa¹
Raphaël de Gubernatis
A caravana cigana¹
Nick Roddick
A necessidade de trincheiras¹
Fabian Cantineri
Mais do que um olhar sobre a solidão de um órfão¹
Jugu Abraham
Uma jornada incerta
“A lâmina da preocupação penetra a sua carne.
Que hipócrita o universo.
Todo o planeta
se ergue contra nós.
Sobrevivemos como bandidos acossados.
Nós que nunca roubamos um só grão.“
( Latcho Drom, de Tony Gatlif, 1993)
Sempre envoltos em um manto de mistério, os diferentes subgrupos étnicos que compõem a hoje espalhada comunidade cigana formam um mosaico humano único que se espraia pelos cinco continentes, com grande destaque para os ciganos que habitam a Europa. Estimados em cerca de 15 milhões, constituem a maior minoria reconhecida oficialmente pelas Nações Unidas, com a distinção singular de serem um povo apátrida. Oriundos do nordeste da Índia, migraram em grandes ondas principalmente para a Europa Central, onde constituem parcela significativa da população em países como Romênia, Hungria e Bulgária. De tradição ágrafa até há bem pouco tempo, e com vários subgrupos adeptos do nomadismo, os ciganos tiveram sua história escrita através de intermediários. Acabaram passando por grandes tragédias como séculos de escravidão e genocídios, e ainda são considerados um dos povos mais perseguidos da atualidade (na Europa prossegue a chamada Década da Inclusão dos Roma, 2005-2015). Com pouca escolaridade, baixa expectativa de vida e altos índices de pobreza como características sociais mais salientes, mantêm notável unidade cultural expressa pela indumentária, musicalidade e sentido de comunidade. Apesar de terem a característica da fácil assimilação das culturais locais em que se estabelecem, ficaram mais conhecidos pela aura negativa que se formou em torno de sua presença insinuante e supostamente ameaçadora. Seriam traiçoeiros, vingativos, violentos, ladrões e místicos. Para desfazer essa má fama que ainda os persegue, têm investido na criação de uma imagem própria, que atue também como instrumento de defesa tanto em termos de direitos humanos quanto de proteção ao patrimônio cultural formado ao longo de séculos. Entre outros meios, a música e o cinema surgiram como campo privilegiado para este propósito, devido às peculiaridades e qualidades apresentadas para além das fronteiras do grupo.
Os filmes da mostra Caravana Cigana tratam principalmente sobre a exclusão, o preconceito sofrido pelos ciganos e os seus costumes, como a música – uma das características mais marcantes da cultura cigana.
Origens
Os ciganos não constituem um povo compacto e homogêneo. Mesmo pertencendo a uma única etnia, existe a hipótese de que a migração desde a Índia tenha ocorrido em diferentes épocas e que, desde a origem, eles tivessem sido divididos em grupos e subgrupos, falando dialetos diferentes, ainda que afins entre si. O acréscimo de componentes léxicos e sintáticos das línguas faladas nos países que atravessaram no decorrer dos séculos acentuou fortemente tal diversificação, a tal ponto que podem ser definidos como grupos separados, que reúnem subgrupos muitas vezes em evidente contraste social entre si. Estes grandes grupos que compõem o que popularmente conhecemos como “ciganos” apresentam particularidades bastante distintas. Nas últimas décadas, pesquisadores identificaram quatro grandes grupos no Ocidente. O grupo “Rom”, demograficamente majoritário, é o que se encontra disperso pelo maior número de países. Possui várias subdivisões com denominações próprias, como os kalderash, matchuara, lovara e tchurara, tendo sua história intimamente ligada à Europa Central e aos Bálcãs, de onde migraram a partir do século XIX para o leste da Europa e para a América. Muitos estudiosos e organizações ciganas vêm tentando substituir a palavra “cigano” por “rom”. Este processo tem sido chamado de romanização, e busca conferir legitimidade a estes grupos como sendo o dos “verdadeiros ciganos”. Há ainda, pelo menos, duas derivações dessa política. A primeira, a do subgrupo kalderash, autoproclamada a mais “autêntica” e “nobre” entre as comunidades ciganas. A segunda é a do grupo linguístico vlax romani, considerado, por muitos pesquisadores, como portador da “verdadeira língua cigana”. Por conta disto, é bastante comum encontrarmos a denominação rom como sinônimo para o que conhecemos como cigano. O grupo “Sinti” fala a língua sintó e são numericamente expressivos na Alemanha, Itália e França, onde também são conhecidos como “Manouch”. Os “Calon”, cuja língua é o caló, é um grupo com características culturais advindas de um prolongado contato com os povos ibéricos. Da Península Ibérica, onde ainda são numerosos, migraram para outros países europeus e da América. Os “Romnichals” ou “Romanichals” fazem parte de um grupo que vive no Reino Unido, particularmente na Inglaterra e na Escócia, além de outras áreas anglófonas. Estima-se que haja atualmente mais romanichals nos Estados Unidos do que na Inglaterra. Encontram-se também grupos menores na África do Sul, Austrália, Canadá e Nova Zelândia.
Estima-se que as ondas migratórias tenham se iniciado entre os anos de 500 – 1.000 d.C., a partir das regiões de Punjab e do Rajastão, no subcontinente indiano, onde se encontravam na posição mais baixa do sistema das castas, servindo à população do local. Iniciaram sua migração pelo planalto iraniano, para a Europa e África do Norte, provavelmente por conta das invasões dos huns. Estas invasões pelo norte da Índia acarretaram a captura dos povos que ali viviam, inclusive os ciganos, e sua posterior venda para os persas. Estes, por sua vez, teriam vendido os prisioneiros na Europa como escravos. Do Leste Europeu os ciganos teriam ido para principados cristãos ortodoxos, da Transilvânia e da Moldávia, sendo escravizados por príncipes e por religiosos, entre outros.
Devido às conquistas territoriais e políticas de estados indianos no século XV, muitas caravanas ciganas partiram para a Europa, o Oriente médio e o norte da África, constituindo o que é considerado a segunda onda migratória. Um primeiro grupo teria seguido para o oeste e chegado à Europa através da Grécia; e o segundo teria partido para a parte sul, atingindo à Síria, Egito e Palestina. Uma das explicações da origem da palavra “cigano” advém de sua passagem pela Grécia. Paralelamente às grandes igrejas ortodoxas, teria existido uma pequena igreja chamada “Atcinganosz”. O nome “cigano” teria vindo daí. Outra explicação remete ao significado desta palavra grega, que quer dizer pessoa fora da lei ou intocável, se referindo a um grupo de pagãos ou hereges com os quais os cristãos teriam sido proibidos de entrar em contato. Como muitos outros fatos das histórias dos ciganos, este também é pouco esclarecido e incerto.
No continente europeu, em razão de clivagens internas e da interação com as várias populações locais, os ciganos emergiram como um conjunto de grupos étnicos distintos, dentro de um conjunto maior. Alguns desses grupos foram escravizados nos Bálcãs, o que atualmente seria o território da atual Romênia, enquanto outros puderam se movimentar, espalhando-se principalmente pela Hungria, Áustria e Boêmia, chegando à Alemanha no início do século XV. Espalham-se rapidamente nas décadas seguintes, chegando a outros países como a França e a Inglaterra.
A terceira onda migratória aconteceu entre o século XIX e início do século XX, da Europa para as Américas, após a abolição da servidão na Europa Oriental, entre 1856 e 1864.
Apesar de apresentarem uma natureza pacífica, típica do comportamento indiano tradicional, preferindo a resistência passiva a uma confrontação violenta, os ciganos sempre foram perseguidos, humilhados e assassinados. Embora pouco documentado, estima-se que mais de um milhão de ciganos europeus foram exterminados nos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O massacre é denominado pelos ciganos de Porrajmos e começou a ser recuperado pela historiografia apenas a partir dos anos 1970. Os ciganos nunca entraram em guerras e não fundaram reinados, principados ou algum tipo de estado independente até hoje, demonstrando o estranho paradoxo de serem uma das culturas mais antigas do mundo e ao mesmo tempo não terem e não quererem ter um território ou país próprio.
Ciganos no Brasil
No caso do Brasil, fontes indicam que os primeiros ciganos chegaram ainda no século XVI. Começaram a ser mais notados no século XIX, principalmente pela inquietação que causavam nas autoridades. Apesar de serem referidos sempre de maneira esteriotipada, como “trapaceiros”, “sujos”, “ladrões” e “vagabundos”, com a instalação da Corte portuguesa no Rio de Janeiro em 1808, e as consequências imediatas na política e na economia, propiciaram a acensão socioeconômica dos ciganos, especialmente na área de comércio de escravos no Rio. Se estabeleceram de forma concentrada no Campo de Santana (onde curiosamente podemos encontrá-los até hoje), que na época era um brejo desvalorizado, conhecido como “Campo dos Ciganos”. Apesar da situação miserável das diversas famílias ciganas que formaram a comunidade que habitava a área neste momento, muitos deles ficaram ricos, principalmente os que atuavam como comerciantes de escravos. O “Campo dos Ciganos” se tornou o bairro boêmio do Rio, conhecido por vida noturna alegre e pelos artistas nacionais e estrangeiros que moravam por ali. Quando se iniciou o saneamento destes brejos, se transferiram para o Largo do Rossio (atual Praça Tiradentes). Foi nesse entorno que viveram os ciganos durante todo o século XIX, onde passaram tanto por um período de maior aceitação e valorização social, visto que exerciam uma atividade útil para o comércio da cidade, quanto de declínio. A época de bonança durou pouco, já que com os movimentos políticos de Independência, a partir de 1820, e para a abolição da escravidão, em meados do século, este prestígio começa a declinar. A falta de uma ligação histórica precisa a uma pátria definida ou a uma origem segura impediram que fossem reconhecidos como grupo étnico coeso, o que ia de encontro aos ideais de construção de uma identidade nacional neste período. Tal fato fez com que os ciganos voltassem a ser cerceados tanto em sua individualidade quanto em seus deslocamentos. O processo de “civilização” dos costumes desencadeado junto às elites brasileiras intensificou a perseguição aos grupos marginalizados, entre eles os ciganos, que voltaram a ser uma presença indesejada na cidade.
Atualmente muito pouco se sabe sobre a população cigana no Brasil, tampouco sobre sua quantidade ou distribuição geográfica. Pesquisadores indicam a presença do grupo calon, o mais numeroso, que veio de Portugal para o Brasil no século XVI, inicialmente de maneira compulsória, e dos rom, que chegaram em peso somente em meados do século XIX, integrados clandestinamente à primeira onda migratória de italianos, alemães, poloneses, russos e gregos. Nesta leva, pesquisadores apuraram que o primeiro rom que chegou ao território mineiro foi Jan Nepomuscky Kubitschek, que viria a ser o avô de Juscelino Kubitschek, presidente do Brasil entre 1956 e 1960. Surpreendentemente, um dos mais famosos políticos brasileiros era descendente de ciganos, fato que os livros didáticos não fazem muita questão de informar.
Desde sua chegada, a mais importante atividade econômica dos ciganos foi o comércio. Comercializavam sobretudo animais de carga, como mulas e cavalos, entre outras mercadorias. Mas foi o comércio de escravos o responsável pela grande transformação do papel dos ciganos na sociedade da época, principalmente nas primeiras décadas do século XIX. Também ficaram marcados por atividades artísticas como a de saltimbancos e a circense, além da música. A prática da quiromancia ficou estreitamente ligada às mulheres ciganas, se constituindo como sua principal e mais rentosa atividade. A buena dicha, como era conhecida a leitura de mãos, não era considerado um ritual sagrado, e sim uma atividade lúdica que possibilitava o ganho para os gastos diários. Parece singular o fato de que os ciganos não tenham cultivado, no decorrer dos séculos, crenças em nenhuma divindade particular.
Associados a uma gama de estereótipos majoritariamente negativos, os ciganos foram caracterizados ao longo do tempo como pessoas de índole perigosa, nada confiáveis, uma ameaça aos “bons costumes”. Apesar disso, souberam subverter a maioria das situações cujo contexto lhes era desfavorável. Embora mantendo sua identidade, em alguns aspectos revelam grande capacidade de integração cultural: sempre professam a religião local dominante, da mesma forma que suas danças, músicas, narrativas e provérbios manifestam a assimilação da cultura do meio em que vivem. Versáteis, se adaptaram diante das circunstâncias, preenchendo as brechas que a dinâmica econômica e social criava, exercendo inúmeras atividades que possibilitavam sua inserção na sociedade, que, por fim, acabavam por tolerá-los. E desta forma demonstraram o seu maior feito: o da sobrevivência.
A mostra
O propósito da mostra Caravana Cigana é trazer ao público brasileiro um olhar inaugural sobre a cultura cigana, oferecendo um vasto panorama da produção cinematográfica sobre o tema, possibilitando que o público possa conhecer as condições dos ciganos provenientes de vários países e assim ter uma visão ampla sobre sua condição, oferecendo a oportunidade de desfazer a imagem negativa que ainda os acompanha.
São 20 filmes, entre curtas, médias e longas-metragens, que datam de 1927 a 2012, vindo de países como a Hungria (seis títulos), França (quatro títulos), ex-Iugoslávia (dois títulos), EUA (dois títulos) e Brasil (seis títulos).
Na tela, obras contemporâneas de jovens e premiados cineastas húngaros, como Apenas o vento, de Bence Fliegauf, Urso de Prata no Festival de Berlim de 2012, além de outras cinco obras inéditas no país: Canções de vidas, de Csaba Bereczky, Feliz vida nova, de Árpád Bogdán, Cheio de banha, de Kristóf Kovács, Gypsy Side, de Balázs Gát, e Vespa, de Diana Groó; uma pequena retrospectiva de Tony Gatlif, considerado o grande cineasta de origem cigana da atualidade; clássicos de Emir Kusturica, responsáveis pela formação de uma identidade cinematográfica cigana no mundo; documentários de Jasmine Dellal sobre uma turnê única de músicos ciganos de diversos países e sobre os pouco conhecidos ciganos americanos; e pérolas esquecidas e pouco vistas da cinematografia brasileira sobre o tema – Dança, amor e ventura, relíquia dos primórdios do cinema que só restaram fragmentos, Ciganos do Nordeste, documentário raro de Olney São Paulo sobre os ciganos desta parte do país, Amante latino, com nosso cigano maior, Sidney Magal – além de três poéticos curtas-metragens contemporâneos, sendo dois deles de Julia Zakia, que em breve lançará seu primeiro longa-metragem, Rio cigano, o primeiro filme cigano de ficção feito no Brasil.
Com vocês, os ciganos.
Débora Butruce e Orsolya Balogh, curadoras.
Referências bibliográficas:
CAMPOS, Claudia Camargo. Ciganos e suas tradições. São Paulo: Madras, 1999.
FONSECA, Isabel. Enterrem-me em pé: a longa viagem dos ciganos. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
MACEDO, Oswaldo. Ciganos: natureza e cultura. Rio de Janeiro: Imago, 1992.
MARTINEZ, Nereide. Os ciganos. Campinas: Papirus, 1989.
MOONEN, Frans. Os estudos ciganos no Brasil. Recife: Núcleo de Estudos Ciganos, 2011.
______. Ciganos e ciganólogos: estudar ciganos para quem e para quê? Recife: Núcleo de Estudos Ciganos, 2012.
______. Rom, Sinti e Calon: os assim chamados ciganos. Recife: Núcleo de Estudos Ciganos, E-Texto nº 1 [www.dhnet.org.br].
TEIXEIRA, Rodrigo Corrêa. História dos ciganos no Brasil. Recife: Núcleo de Estudos Ciganos, 2008, 127pp.